Categoria: Metodologia
Recursos metodológicos em textos, seminários e vídeos sobre a metodologia de pesquisa.
-
Modelo de análise de cadeias de valor
Esta nota técnica em sua versão preliminar tem o objetivo de apresentar um modelo de análise que permita o mapeamento de quatro cadeias de valor com base na bioeconomia no estado do Amazonas (Pirarucu, Cacau, Açaí, Castanha da Amazônia), com alto potencial de consumo no estado de São Paulo.
-
Indicadores para uma bioeconomia sustentável na Amazônia
A publicação da FAO, “Indicadores para Bioeconomia Sustentável: Rumo à Construção de uma Estrutura de Monitoramento e Avaliação”, junto com seu banco de dados, traz uma contribuição importante para analisar o impacto das cadeias de valor da bioeconomia na Amazônia. Seu conteúdo apresenta indicadores úteis para identificar prioridades de ação, além de conceber e propor políticas públicas. Suas…
-
The Açaí Value Chain: Articulation and Access to Benefits
Article by Flora Bittencourt • Manoel Potiguar • Thiara Fernandes. This chapter originally appeared in Portuguese in the book Bioeconomia para quem? Bases para um desenvolvimento sustentável na Amazônia”, edited by Jacques Marcovitch and Adalberto Val (Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, 2024
-
Caminhos para uma bioeconomia amazônica com impacto global
Nesta entrevista o professor Jacques Marcovitch compartilha reflexões sobre o papel das universidades e instituições de Pesquisa e Inovação, no desenvolvimento de uma bioeconomia que responde às necessidades amazônicas
-
Índice Multicritério de Sustentabilidade na ResEx Chico Mendes, Acre – Brasil
O artigo avalia a sustentabilidade teritorial com base no conceito de Carbono Social e na Análise Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA). O diagnóstico de sustentabilidade baseou-se em cinco critérios: governança, ambiental, social, econômico e agronômico; os quais foram hierarquizados e ponderados através de conferências de decisão junto aos atores sociais, gerando o Índice Multicritério…
-
Bioeconomia dos produtos florestais não-madeireiros
Com base em uma revisão sistemática da literatura, este artigo avalia o estado da arte sobre os PFNMs como base para o desenvolvimento local sustentável na Amazônia brasileira
-
Por uma bioeconomia inclusiva e que mantenha em pé a floresta
CARINA PIMENTA – diretora-executiva da Conexsus (InstitutoConexões Sustentáveis) e ANDREA AZEVEDO – diretora deDesenvolvimento Institucional da Conexsus. Publicado na Revista Interesse Nacional. Ano 13 • edição especial 01 • bioeconomia • agosto 2020 A Organização das Nações Unidas para Agricultura e alimentação (FAO) define bioeconomia como produção, utilização e conservação de recursos biológicos, incluindo conhecimento,…
-
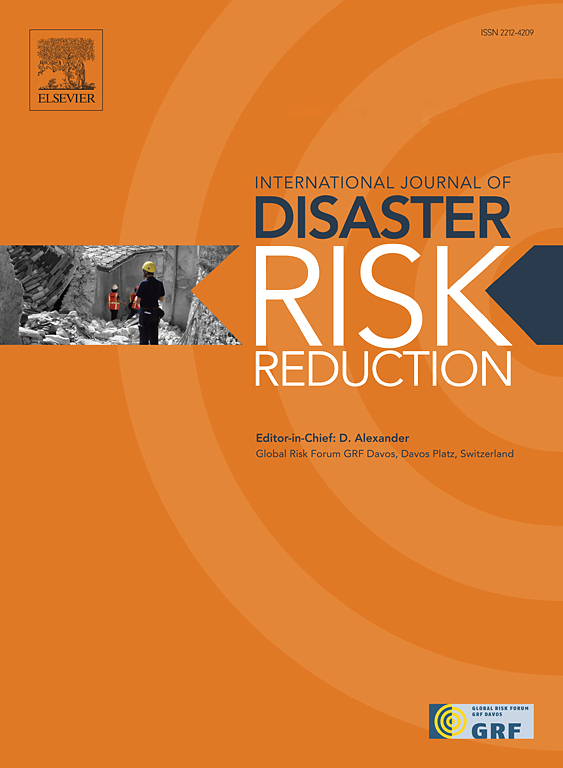
Como enfrentar os incêndios florestais na Amazônia?
Em artigo recentemente publicado no International Journal of Disaster Risk Reduction, Pismel, et al., discutem a governança de incêndios florestais na fronteira tri-nacional do sudoeste da Amazônia. Os incêndios florestais são um perigo crescente nessa fronteira, conhecida como região MAP, composta por Madre de Dios (Peru), Acre (Brasil), e Pando (Bolívia). Segundo os autores, a compreensão…
-
Ciência, Tecnologia e Inovação na Bioeconomia Amazônica
Nota técnica publicada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Sedecti do estado do Amazonas A nota é resultado de um extenso trabalho de escuta ativa realizado por meio de ações coordenadas pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Sedecti. “Esse conceito sobre bioeconomia, que está em processo de construção…
-
Proposta de capacitação
Downloads