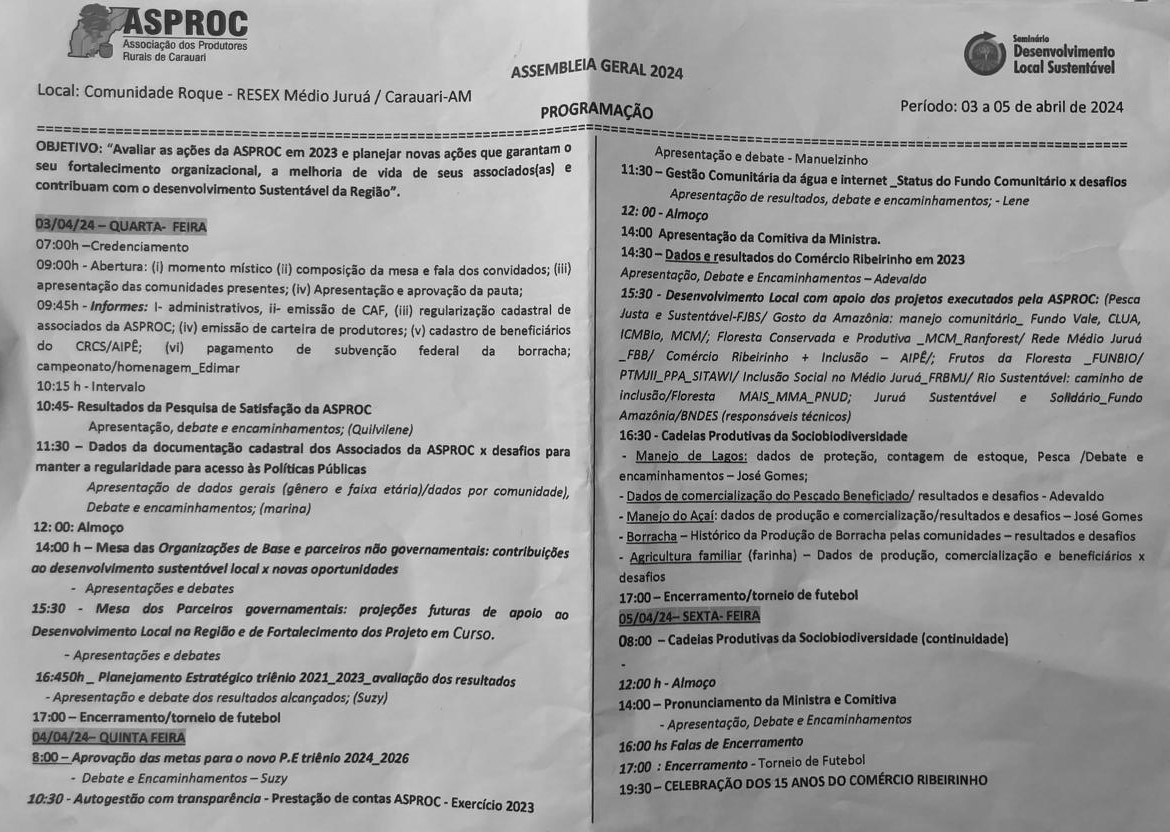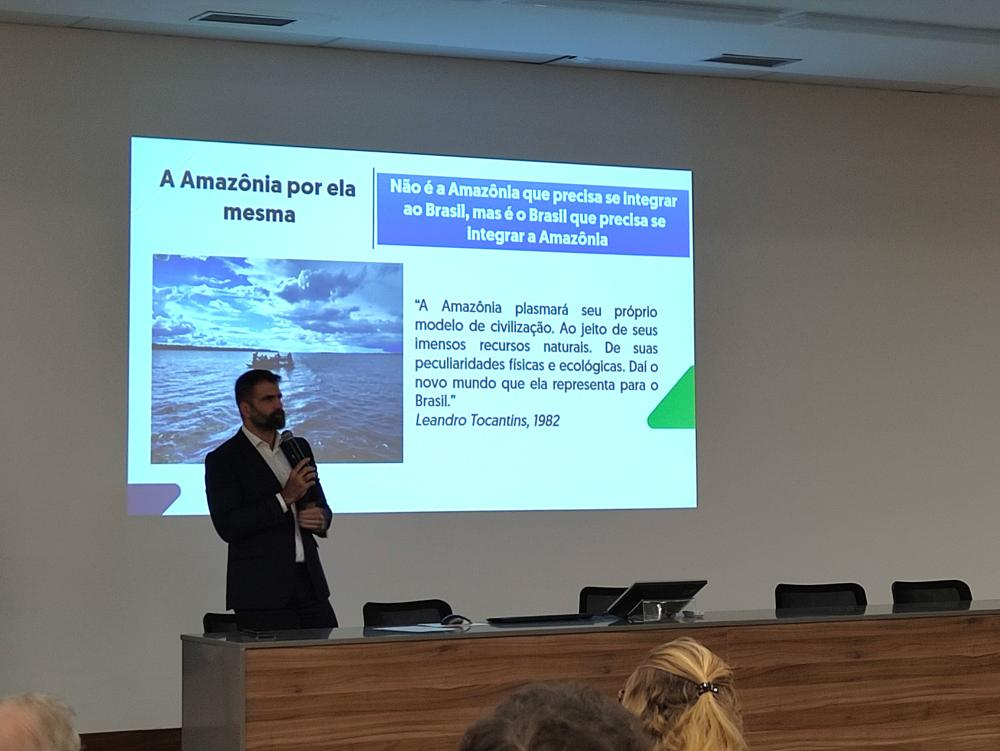CARINA PIMENTA – diretora-executiva da Conexsus (Instituto
Conexões Sustentáveis) e ANDREA AZEVEDO – diretora de
Desenvolvimento Institucional da Conexsus.
Publicado na Revista Interesse Nacional. Ano 13 • edição especial 01 • bioeconomia • agosto 2020
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e alimentação (FAO) define bioeconomia como produção, utilização e conservação de recursos biológicos, incluindo conhecimento, ciência, tecnologia e inovação para disponibilizar informação, produtos, processos e serviços para todos os setores econômicos que buscam uma economia sustentável [1]. Quando falamos de bioeconomia, sobretudo em um contexto de sustentabilidade ambiental e social, estamos falando de uma economia que deve ser capaz de usar a riqueza natural de maneira sustentável, para que esses resultados se traduzam em dois benefícios principais: a) conservação dos biomas naturais e seus recursos; b) na melhoria do bem-estar das populações que vivem da/na floresta e que detêm muito conhecimento sobre ela. Não é possível chegar a essa bioeconomia inclusiva sem a presença e a participação ativa dessas comunidades.
Ainda hoje, a floresta é vista por muitos como empecilho para o desenvolvimento – os números do desmatamento da Amazônia voltaram a subir pela primeira vez desde 2005, tendo chegado a mais de 10.000 km2 em 2019, uma alta de 34% em relação a 2018 [2]. A biodiversidade dos biomas brasileiros, de maneira especial da Amazônia e do Cerrado, é subestimada em relação ao potencial econômico que pode oferecer.
É premente e muito importante que a sociedade, no seu conjunto (Estado, empresas privadas, instituições financeiras, investidores de impacto, sociedade civil e movimentos sociais), cada um desempenhando papéis específicos e complementares, consiga implementar um novo caminho de desenvolvimento e de crescimento econômico no qual o desmatamento não seja protagonista. A primeira lição que aprendemos é que não existe um modelo pronto (embora haja vários caminhos), portanto, teremos que construí-lo, devendo essa ser uma prioridade para o país.
Um dos pilares desse modelo é o fortalecimento de uma vibrante e inovadora economia da floresta em pé. Hoje a economia extrativista e agroextrativista poderia ser muito mais eficiente e beneficiada com mais conexões: com mercados que querem esses produtos; com mais tecnologia e conhecimento para agregar valor às cadeias da floresta; com o florescimento de um processo industrial da quarta geração que usa tecnologias inteligentes e muito menos intensivas em energia (Nobre e Nobre, 2018; Homma, 2018); e com crédito, que no Brasil é altamente subsidiado, mas que na Amazônia tem 85% do seu fluxo indo para a pecuária de baixa produtividade (Pinto e Azevedo, 2017).
Para falarmos desse ecossistema de negócios [3] da bioeconomia, vamos fazer considerações sobre as lacunas que precisam ser preenchidas para o florescimento dessa economia da floresta, por meio da análise de quatro eixos centrais: o desenvolvimento de negócios comunitários e do empreendedorismo territorial; a conexão com o mercado; o financiamento e os investidores de impacto e o papel das políticas públicas.
O desenvolvimento de negócios comunitários e do empreendedorismo territorial
Os negócios comunitários na Amazônia ou em qualquer outro bioma brasileiro são empreendimentos que se dedicam ao uso sustentável do solo e dos recursos naturais, à preservação e recuperação das florestas e à valorização dos ativos socioambientais e, assim, contribuem para a preservação do meio ambiente e da sociobiodiversidade. São cooperativas, associações de produtores, indígenas, quilombolas, extrativistas e outras populações tradicionais ou outras formas associativas de organização comercial e social que geram receita, trabalho e renda para as comunidades envolvidas. Atuam em cadeias produtivas, como as relacionadas à alimentação saudável e sustentável, aos sistemas agroflorestais, à sociobiodiversidade e ao extrativismo, à pesca artesanal sustentável, ao manejo florestal comunitário e ao turismo de base comunitária.
Essas organizações estão presentes em todo o Brasil, sendo que um número significativo está localizado na Amazônia e em unidades de conservação de uso sustentável. Esses empreendimentos se encontram em vários estágios de maturidade: há um grande número de iniciativas ainda incipientes e outras em vias de consolidação ou mais avançadas. Muitas organizações ainda sofrem com a baixa agregação e captura de valor dentro das cadeias produtivas. Adicionalmente, muitas convivem sob pressões e ameaças relacionadas a fatores como a expansão do agronegócio, problemas fundiários, desmatamento, entre outros.
Após amplo mapeamento feito pela Conexsus, em 2018, sobre negócios comunitários, os dados mostraram que 71% das organizações econômicas (736) têm receitas declaradas abaixo de R$600 mil/ano em todo o Brasil (Desafio Conexsus, 2018). Além disso, poucas dessas cooperativas acessam mercados privados (B2B), sendo que a maioria vende direto ao consumidor em feiras ou em outras frentes mais informais. Portanto, os negócios sustentáveis ligados à sociobiodiversidade geram menos benefícios econômicos, sociais e ambientais do que poderiam. Consequentemente, isso limita suas contribuições à proteção de florestas e biomas e à transição para uma economia de baixo carbono, gerando pouco bem-estar social para as populações e municípios com altas quantidades de florestas.
As organizações sociais são muito importantes para que a agregação de valor e a distribuição mais justa entre as comunidades aconteça. Portanto, o apoio aos negócios comunitários (associações e cooperativas) geridos por essas organizações sociais deve ser uma prioridade das políticas públicas e deveria ser um alvo de investimento para os negócios privados que querem gerar mais impacto social em suas cadeias de fornecedores. Ao fortalecer os negócios, fortalecemos a resiliência social e econômica dessas comunidades, que possuem lutas importantes em relação a direitos ao território e à manutenção de seus meios de vida.
Portanto, melhorar os negócios pressupõe melhorar a organização social. De modo que o fortalecimento desses negócios comunitários de impacto socioambiental torna-se estratégico para o desenvolvimento de uma bioeconomia inclusiva no país.
Um primeiro movimento que se espera é o desenvolvimento desses negócios por meio do trabalho mais sistemático e eficaz na formação de suas lideranças e da cooperação, envolvendo os cooperados e associados nas decisões da organização. A melhoria das competências para áreas de gestão, governança e comercialização (estratégias de mercado), assim como a atitude empreendedora, principalmente ampliando as lideranças femininas e jovens, deve ser um foco de investimentos tanto das políticas públicas, como de organizações de filantropia e multilaterais de desenvolvimento.
Esse deve ser um movimento em escala, para além dos pilotos bem-sucedidos em alguns territórios. A consolidação de uma bioeconomia inclusiva requer que centenas de negócios comunitários ampliem sua sustentabilidade econômica e que, assim, contribuam para a ampliação dos seus impactos socioambientais.
O papel dos mercados
O mercado dos produtos da sociobiodiversidade ainda apresenta inúmeras limitações, das quais muitas estão ligadas às características dos produtos florestais extrativos, que possuem: alta perecibilidade e uma logística de escoamento complicada, escala de produção em geral baixa e instável, preços baixos, mercado variável e desorganizado (e por vezes oligopolizado ou realizado por atravessadores), reduzido nível tecnológico aplicado, baixo incentivo fiscal, dentre outras (MMA, 2017).
Muitos desses negócios – por conta dessas restrições e, de forma mais específica, por conta da logística – acabam restringindo-se ao âmbito local e/ou aos institucionais[4]. Quando alcançam mercados mais formais e exigentes, existem várias lacunas a serem superadas e a cadeia, muitas vezes, é tão longa que dificilmente o extrativista e o agricultor alcançam ou conhecem seu mercado final.
Contudo, muitos desses negócios comunitários querem expandir seus mercados, inclusive exportando para outros países. Por outro lado, há uma pressão de consumidores por produtos mais saudáveis, mais naturais e que tenham uma origem conhecida, com respeito a práticas que conservem o meio ambiente e observem as regras trabalhistas. Ou seja, há um trabalho de “aproximação e matching” entre esses dois universos que deve ser muito mais dinamizado.
A Conexsus e seus parceiros fizeram, em 2019, um levantamento de empresas privadas para identificar aquelas
que gostariam de comprar produtos da bioeconomia ou produtos agrícolas sustentáveis. Foram identificadas 250 empresas com potencial de comprar uma diversidade desses produtos e 82 empresas que declararam as suas necessidades, apontando demanda por 290 produtos.
Apontaram também suas “dores e preocupações” na compra direta desses negócios comunitários. Conclui-se que a maioria, sobretudo empresas maiores e mais rígidas em relação aos requerimentos requisitados, não está preparada para comprar diretamente dos negócios comunitários e acaba recorrendo a intermediários.
Uma parte considerável não conhece a realidade de funcionamento dos negócios comunitários, tornando esse
trabalho de sensibilização e informação bastante relevante. É preciso ressaltar que muitas empresas privadas necessitam de um modelo de compras mais adaptado às necessidades desses negócios. E, por fim, para muitas cadeias baseadas na floresta é necessário que as empresas/indústrias estejam dispostas a apoiar uma parte do seu desenvolvimento para identificar novos ingredientes ou garantir uma produção com mais qualidade e frequência.
Esse investimento em inovação e pesquisa e desenvolvimento deve ser ampliado tanto do lado de compradores que querem diferenciar seus produtos, quanto da perspectiva dos negócios comunitários, que pode buscar um valor adicionado aos seus produtos. Iniciativas como Amazônia 4.0 pretendem agregar muito valor à produção a
partir do uso de novas tecnologias nos negócios comunitários e de empreendedores que querem apostar na bioeconomia da floresta em pé. Esse ponto é muito importante para a expansão de mercados com maior valor adicionado para quem tem seus negócios baseados na floresta.
Ou seja, embora haja um trabalho a ser perseguido para que essas lacunas sejam superadas, há, de fato, um movimento que tem levado grandes e médias empresas a chegarem mais perto dos produtores de suas matérias-primas. Do lado da oferta, há um movimento para agregar mais valor aos produtos, melhorar a qualidade e trabalhar mais em rede para atender a diversos requisitos ou arranjos que uma cooperativa ou associação, sozinha, não consegue. Portanto, entendemos que o caminho e o momento são de convergência para uma aproximação das pontas de diversas cadeias de valor.
Financiamento
A contração de financiamento tem sido um constante desafio entre os negócios comunitários de impacto socioambiental. Contratos elaborados pelas tradicionais instituições financeiras são pouco adaptados ao contexto florestal, marcado por um reduzido acesso a informações financeiras, reduzido número de títulos definitivos de propriedade e uma ausência de arranjos de financiamento alternativos para a mitigação das incertezas dos credores quanto à gestão e à transparência da aplicação dos recursos emprestados. Em paralelo, os recursos de filantropia não são suficientes para gerar as transformações necessárias em empreendimentos socioambientais no sentido de torná-los sustentáveis do ponto de vista econômico.
Nesse contexto, combinar investimento filantrópico com investimento reembolsável em um modelo de investimento híbrido (blended finance[5]) parece uma alternativa capaz de destravar recursos financeiros para viabilizar a estruturação de veículos de investimento e de crédito apropriados para a realidade dos negócios comunitários sustentáveis (Convergence, 2020) O acesso ao capital propicia, a partir de sua aplicação produtiva, a implementação de processos organizacionais que levam ao desenvolvimento desses negócios, tais como acesso a novos mercados, conhecimento e tecnologia, atração e retenção de talentos e ampliação de parcerias e da rede de relacionamentos.
Os investimentos híbridos são particularmente adequados para empreendimentos que estão no momento de crescimento para ganhar escala, isto é, quando já possuem um histórico satisfatório de prototipagem, de resultados e de remodelação – fatores que contribuem para apontar, minimamente, a viabilidade econômica do negócio, reduzindo incertezas quanto ao prosseguimento de seus rendimentos futuros. Em comparação com empreendimentos em fases muito iniciais de concepção e prototipagem, os custos de transação de empreendimentos ligeiramente mais estruturados também são menores, o que reduz o tempo necessário de investimento não reembolsável em relação ao investimento reembolsável no momento de composição do investimento híbrido, sendo, assim, mais atraentes aos credores e investidores.
Outra fonte de recursos para a bioeconomia são aqueles destinados ao crédito público, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), no caso do Brasil, que oferece taxas muito vantajosas para o tomador de crédito. Contudo, uma parcela insignificante do Pronaf, tanto de custeio, quanto de investimento, segue para os negócios rurais de impacto socioambiental, geralmente ligados ao extrativismo de produtos da floresta ou a agroextrativismo, sistema agroflorestal, produtos orgânicos ou em transição para uma produção mais sustentável. Ou seja, são negócios que têm um papel crucial na manutenção da vegetação nativa e na transição para uma bioeconomia da floresta em pé.
Nesse sentido, os investimentos híbridos podem também ser estratégicos como ponte para que os negócios comunitários acessem o Pronaf, deixando essa carteira mais sustentável em todo Brasil. Tais recursos de investimentos híbridos podem, por exemplo, compor veículos financeiros que realizam operações que ajudam a estimular o uso do crédito rural, como garantia complementar, aval ou recuperação de crédito.
O papel das políticas públicas
Na Amazônia brasileira, os negócios comunitários não possuem lugar de destaque para combater o desmatamento, nem nas políticas públicas, tampouco como estratégia privada.
O plano de controle de desmatamento da Amazônia (PPCDAM) não conseguiu avançar em seu terceiro eixo de arranjos produtivos sustentáveis e seu potencial é subutilizado para criar uma lógica econômica que gere não somente aumento de renda a partir da biodiversidade e do carbono, mas também a “economia da resistência” – prova do conceito de que esses negócios ativados fortalecem a resiliência dessas comunidades e os direitos sobre esses territórios.
Comunidades desprovidas de um nível adequado de renda são mais propensas a abandonar ou a serem expulsas de suas terras, migrarem para favelas urbanas e, desse modo, permitir o avanço do desmatamento e das emissões pelo agronegócio e especulação fundiária. Portanto, todos esses elementos precisam ser conectados, sendo que as políticas públicas de fomento à agricultura familiar sustentável e à bioeconomia da floresta precisam de ter um objetivo claro de transformação desse ecossistema de negócios de impacto rural.
Isso implica mudar o foco do crédito, ter regras mais claras no campo fundiário, como também mudar a relação de empresas e universidades com o conhecimento tradicional. É também necessário ter mais transparência e constância nas políticas de fomento (compras institucionais e preços mínimos), estimular novos arranjos para maior capacidade de processamento e agregação de valor. Cabe aos estados incluírem em sua estratégia de atração de empreendimentos aqueles que fomentem o desenvolvimento das cadeias de produtos do agroextrativismo, incluindo nessa estratégia uma política tributária que possa desonerar esses negócios e, por fim, ajudar a criar ambiência para que novos negócios em torno da bioeconomia possam se estruturar.
Isso passa por um trabalho com ciência e tecnologia e por envolvimento das comunidades que conhecem e vivem na floresta. Isso também passa pela criação de um ambiente que estimule o ecossistema de inovação e de empreendedorismo. A retomada do Fundo Amazônia poderia ser um instrumento muito bem-vindo para impulsionar o desenvolvimento mais estruturado da bioeconomia na região da Amazônia e em outros biomas do Brasil.
[1] FAO defines bioeconomy as the production, utilization and conservation of biological resources, including related
knowledge, science, technology, and innovation, to provide information, products, processes and services across
all economic sectors aiming toward a sustainable economy.
[2] http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/a-taxa-consolidada-de-desmatamento-por-corte-raso-para-os-nove-
estados-da-amazonia-legal-ac-am-ap-ma-mt-pa-ro-rr-e-to-em-2019-e-de-10-129-km2
[3] Ecossistema de negócios é um conceito que se origina da biologia e que nesse contexto significa a interdependência de papéis para que o sistema funcione apropriadamente (Cruz, Quitério, Scretas, 2018). É um termo comumente usado quando se refere a investimentos de impacto socioambiental.
[4] Mercados institucionais são aqueles provenientes de programas de compras públicas, como, por exemplo, PNAE, destinado às escolas públicas, e PAA. Mas, existem mercados institucionais que se originam de universidades, exército e outros órgãos públicos.
[5] Financiamento híbrido é o uso estratégico de recursos financeiros para desenvolvimento para a mobilização de financiamento privado adicional em prol do desenvolvimento sustentável https://www.oecd.org/dac/financing-
sustainable-development/blended-finance-principles/.